Reportagem especial: O pouco tempo de uma vida que mal começou
Como é a rotina no ambulatório dedicado a aliviar o sofrimento de crianças com a expectativa de vida reduzida por doenças graves
“Doutor, eu tô com uma dor no estômago. Fiquei gripada e tive até dor de garganta. Arranquei meu dente sozinha… Ah, doutor! Outra coisa: eu estou com uma ferida aqui na cabeça, tem uma casquinha, olha”.
Andressa tira o chapéu e afasta rapidamente os fios de cabelo com as pontas dos dedos. O gesto revela o minúsculo machucado e uma sequela do câncer descoberto quando a menina, de nove anos, tinha apenas três: há um afundamento na parte direita da cabeça, consequência da retirada de quase um quarto do cérebro.
A pequena está em um consultório médico, mais um entre tantos que passou desde os primeiros anos de vida. Mas esse é especial. Olhando de fora, nada explica o conforto que a menina sente em estar ali.
Andressa Thamyres Uesler é paciente do Ambulatório de Cuidados Paliativos Infantil do Hospital Santo Antônio, onde oito profissionais buscam fazer algo que parece impossível: amenizar dores de crianças e famílias. São pacientes de 0 a 19 anos portadores de doenças terminais ou complexas, que reduzem a expectativa de vida e trazem um cotidiano repleto de remédios e tratamentos.
A sala, com mesa, maca simples e pia, fica ao final de um estreito corredor. Na outra ponta dele há uma sala de espera, com cadeiras diante de uma televisão ligada em volume baixo. Quem espera pela próxima consulta conversa aos sussurros, às vezes interrompidos pelo choro de alguma criança.
A porta de vidro no andar térreo, sem nenhuma identificação, fica quase em frente ao Centro Obstétrico, sinalizado por letras garrafais.
O Santo Antônio foi o primeiro hospital catarinense a oferecer cuidados paliativos infantil – no Brasil, menos de 10% da rede têm esse tipo de atendimento. O serviço é tão raro que mesmo funcionários do hospital desconhecem a existência do ambulatório. Apesar de pouco visível, atende toda quinta-feira.

“Ao redor da doença tem uma criança”
No ambulatório, há crianças desenganadas por médicos. Sobra-lhes pouco tempo de uma vida que mal começou. Outras, como Andressa, buscam nos especialistas tratamentos para controlar complicações de doenças que jamais serão totalmente curadas.
“Ao redor da doença tem uma criança. Nós fazemos a parte médica, mas também buscamos dar condições para que se viva da melhor maneira possível a vida que se tem. As pessoas, quando ficam doentes, pausam a vida delas para se tratar. Esses pacientes terão de conviver com o tratamento pelo resto dos dias, que nós não sabemos quantos serão”, enfatiza o médico que coordena o ambulatório, Marcelo Rech de Faria.
Durante as consultas, não se ouvem os populares “o que dói?” ou “o que você está sentindo?”. No lugar, o questionário é mais empático: “esquece o órgão e me conta o que te incomoda. Você está feliz? As pessoas te entendem? Como está a aderência à medicação?”.
Entre as missões da equipe, composta por dois psicólogos, nutricionista, três médicos, assistente social e fonoaudiólogo, está a análise de novas possibilidades de tratamento quando a criança rejeita o que faz ou está muito infeliz. E, principalmente, perceber pequenos problemas que, se resolvidos, trarão bem estar.
“Nós percebemos o que a família não percebe. Criamos metas, às vezes tentamos resolver questões como a raiva de Deus e o medo de morrer”, revela o médico.
De maneira geral, a morte não é tratada durante uma consulta, exceto quando o assunto é trazido pela própria criança ou pelos familiares. Até porque, apesar do cuidado paliativo normalmente estar relacionado a doenças terminais, não é essa a essência do ambulatório.
O objetivo é tentar controlar a dor e sintomas para proporcionar uma vida mais digna aos pequenos que, muitas vezes, estão apenas sobrevivendo.
“A maior preocupação da família é que a criança sobreviva. A criança quer viver. São coisas diferentes”, reflete Marcelo.
Infância no hospital
Andressa, durante a consulta, fala sem parar. Enquanto o médico olha a ressonância do cérebro, ela conta sobre o gato que pediu de presente. Como vai se chamar? “Pompom e Lucky”. Os pais ficam confusos com a dupla escolha e, entre risos, escutam de Marcelo que o tumor permanece estável.
Alexandre Uesler, o pai, inspira, tranca a respiração e expira rapidamente. A mãe, Adriana Inácia, não se surpreende. Diz que sentia estar tudo bem. Parte da tranquilidade, revela, veio das conversas em consultas anteriores com o pediatra.
“Não consigo expressar a importância que o doutor Marcelo tem para nós. Tem palavras que você leva para sempre na memória. Eu sempre saio daqui leve, ele passa uma energia muito boa”, diz Adriana, com os olhos castanhos brilhando.
Durante a conversa com a repórter, Andressa permanece em silêncio, com a cabeça virada de lado, deitada no carrinho. Os pais estranham a atitude da menina que, atenta, ouve a narração da própria história.
A menina teve um tumor benigno. Perdeu parte do cérebro, toda a visão, um pouco do movimento do lado esquerdo do corpo e um pedaço da infância, vivida dentro de hospitais. Os pais perceberam que algo não estava bem quando, há seis anos, os olhos dela começaram a fazer movimentos involuntários.
O diagnóstico foi precoce, mas a menina não foi encaminhada a um oncologista. Tratada por um pediatra, recebia medicamentos para amenizar os sintomas.
O tumor foi ganhando espaço e acabou por pressionar o líquor (líquido que há no cérebro). Depois de várias convulsões, veio a primeira cirurgia. Até o momento foram oito procedimentos. Hoje está bem, mas restaram as sequelas, fisioterapias e consultas de rotina.
O casal Uesler evita remoer o passado, mas não esconde a frustração nas palavras. Para eles, equívocos no início do tratamento prejudicaram a filha.
“Quantas coisas meus filhos fazem e não digo nem parabéns?”
Como a maioria das crianças que frequenta o ambulatório, Andressa vive em uma cidade vizinha: Indaial. É exceção apenas no tipo de doença que tem. Mais da metade dos 20 atendidos possuem problemas neurológicos graves. Outros dois têm doenças degenerativas e um adolescente convive com um câncer.
Aylla Yanny, de dois anos, é um dos casos neurológicos. Logo após o nascimento, os pais, Dionara e Fernando Gabriel, ouviram de médicos que a filha tem a doença da urina do xarope de bordo. Trata-se de uma combinação de aminoácidos tóxicos ao sistema nervoso central que se acumulam nos líquidos corporais.
Aylla não anda, não fala e não enxerga. Mas sorri quando ouve a voz de Marcelo ou da outra pediatra do ambulatório, Geisa Graziela Perez. Dentro da primeira sala do ambulatório, Geisa tenta encontrar uma solução para que a pequena pare de babar com tanta frequência. Recomenda um remédio, escreve em um papel branco e examina Aylla.
“Eu vejo mães comemorando que uma criança com má formação no cérebro conseguiu bater palma. Quantas coisas meus filhos fazem e eu não digo nem parabéns”? questiona-se.
Depois de uma extensa conversa sobre o cotidiano e as pequenas evoluções dela (Aylla teve um avanço motor e consegue firmar melhor os pés), é a vez da consulta com a nutricionista. Apesar de ter perdido a deglutição e se alimentar por sonda, a menina ganhou peso nos últimos meses.
Agridoce
Essa é a palavra que Marcelo e Geisa usam para definir como é atuar com cuidados paliativos. Impossível não carregar os dramas do trabalho para casa, admitem.
“É doce, mas é amargo. É legal saber que você vai achar coisinhas para melhorar a vida daquele paciente, mas também dói saber que eu nunca vou conseguir tirar a criança da situação que está”.
Geisa é especialista em oncologia. Começou a acompanhar os pacientes do ambulatório em 2017. Naquele janeiro, Marcelo estava de férias. Sozinha, presenciou a morte de duas crianças.
Foi um grande impacto para a médica, que fugiu o quanto pôde dos cuidados paliativos. Como muitos, tinha a visão de que cuidaria de pessoas prestes a partir.
“Meus colegas diziam: ‘Você sempre gostou de uma abordagem psicossocial, você é paliativista’ Eu respondia: ‘não gosto de cuidar de crianças que estão morrendo. Eu cuido da dor'”.

Durante a manhã ela está com os pequenos da oncologia e, às quintas-feiras à tarde, em atendimento no ambulatório. Não raras vezes leva os filhos de dez e seis anos para acompanhá-la em plantões de fim de semana.
Quando alguém piora e a frequência de idas ao hospital aumenta, a dupla percebe.
“Às vezes eu chego em casa triste e frustrada e eles me perguntam: ‘mamãe, alguém piorou, né?’. Já aconteceu da minha filha de seis anos me questionar se já não era hora da criança internada virar estrelinha, de tanto sofrimento que ela percebia”, conta.
A médica, como tantos outros colegas de profissão, fez terapia por muitos anos. Depois da mudança para Blumenau, há quase cinco anos, decidiu não continuar o acompanhamento. Porém, reconhece a carga pesada.
“Tem dias que choramos de tristeza, de frustração, de raiva. Isso não é sinal de fragilidade. É sinal de que a gente se importa”, conclui.
Marcelo é pai de uma menina de três anos e de um menino de seis. De um lado, tenta amenizar a fragilidade dos pacientes, buscando dar autonomia para viverem o maior tempo – e com a maior independência – possível. De outro, aprende a valorizar o que tem e a dar atenção ao que realmente importa.
“A gente tem a ilusão de que isso ocorre pouco. Mas, de repente, você tem um filho saudável e algo pode acontecer com ele”, reflete.
Como tudo começou
Era 2014 quando Marcelo acompanhou um bebê que nascera com Síndrome de Edwards, uma doença que causa apneia. Em algum momento, uma daquelas suspensões de respiração duraria tempo demais e levaria a criança à morte.
Marcelo então conseguiu um espaço no ambulatório que atendia pacientes de cirurgia bariátrica. Ali, nos dias em que não havia outras consultas, atendia o pequeno. Em uma das consultas, o bebê deu o último suspiro. Faleceu diante do médico, da psicóloga e no colo dos pais.
A partir daquele momento, o trabalho paliativo começou a ganhar forma no Santo Antônio. A unidade, que em outros dias da semana serve de consultório para demandas distintas, como o setor bariátrico, foi reformada recentemente com o dinheiro doado pela Trimania.
O sonho dos três médicos que atendem ali (Luciano Máximo completa o trio) é ter um lugar para os pacientes como a Casa do Aconchego, que acolhe as mães de bebês internados na UTI Neonatal.
As paredes brancas darão lugar a pinturas de árvores e rios. Haverá um local com jeito de “lar” para os pacientes que precisarem de internação. Psicólogos darão suporte durante todo o processo.

Hoje, os especialistas são remunerados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e dividem as rotinas profissionais com outros setores pediátricos. O espaço é mantido com recursos próprios do Santo Antônio, sem convênio específico com órgão governamental.
Quando os médicos passam do horário de trabalho, o que não é raro, a atividade se torna filantrópica. Na busca incessante pelo controle da dor, os profissionais precisam lidar também com o que chamam de “erros burocráticos”.
Há pacientes que chegam muito pior do que o esperado (por falta de atenção de médicos anteriores), há desconhecimento de colegas de profissão sobre o trabalho feito ali. Há ideias de tratamento que não funcionam. E há o preconceito, problema para o qual Marcelo tem resposta pronta:
“Não somos um lugar para onde as pessoas são encaminhadas quando estão morrendo. Somos um lugar para onde as crianças deveriam ser encaminhadas porque estão sofrendo”.
Correção
Até 18h30 do dia 15 de abril, o texto acima informou que o ambulatório de cuidados paliativos do Hospital Santo Antônio é único em Santa Catarina. Na verdade, o hospital blumenauense foi pioneiro no tema, em 2014. Porém, há três anos o Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis, também criou o seu ambulatório. A versão acima já foi corrigida.
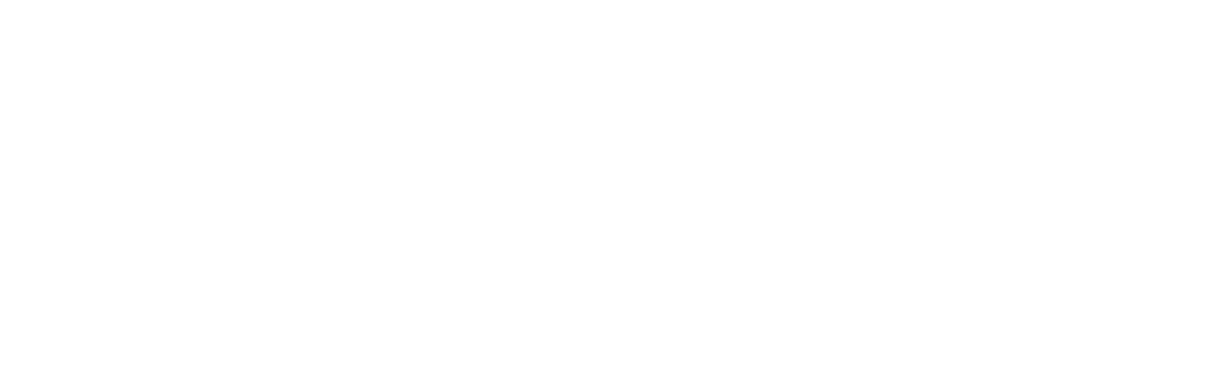
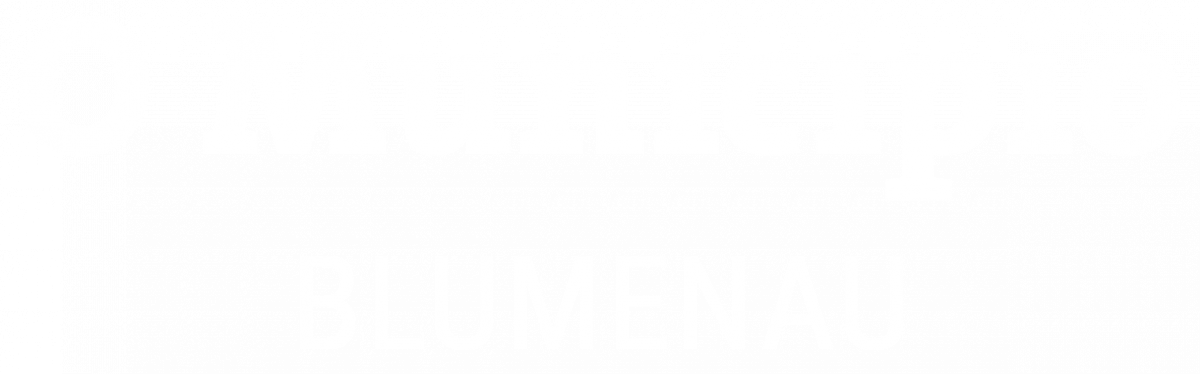
 Por
Por 
